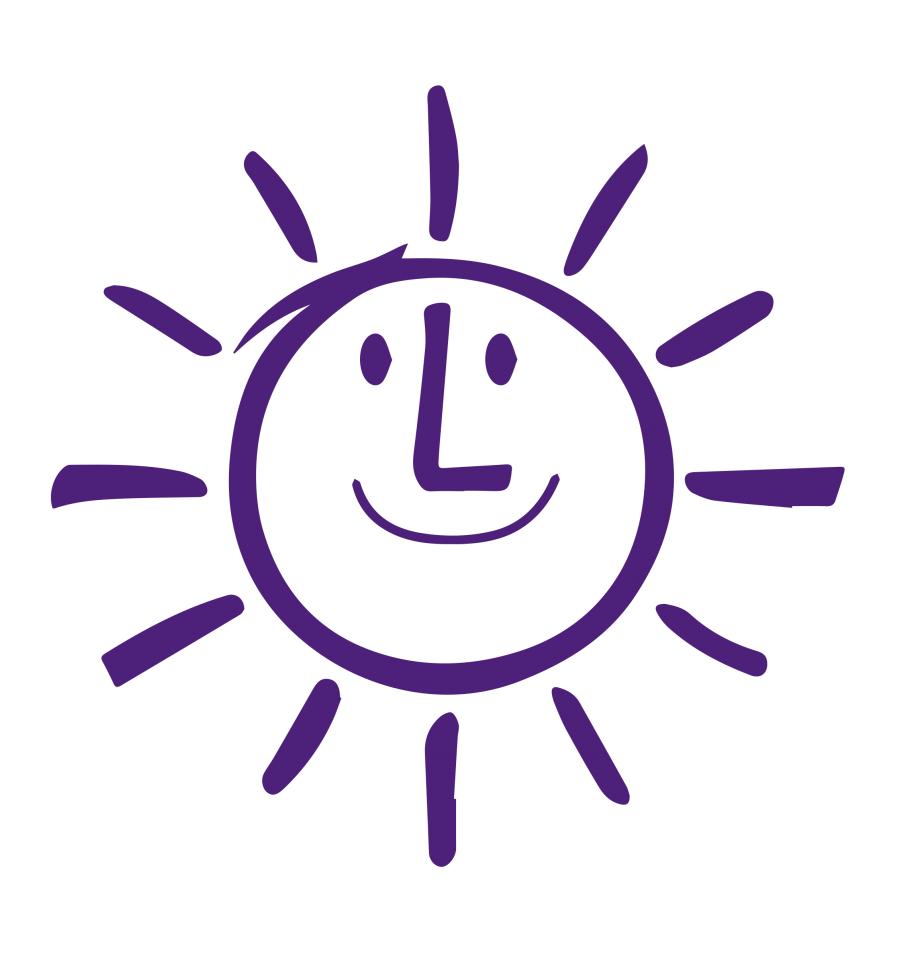POR ADEILTON OLIVEIRA para O Globo
Vésperas de réveillon, alto de um morro da Zona Sul do Rio. Eu, repórter de uma emissora de televisão, esperava o representante da associação de moradores para fazer uma matéria sobre o aluguel de lajes de alguns barracos da favela — estrangeiros pagavam altas quantias para ter uma visão privilegiada da queima de fogos em Copacabana. Ao meu lado, cinegrafista e motorista da minha equipe, além de outros jornalistas.
De repente, um carro surge sob o barulho de cantadas de pneus ladeira acima. Pelas janelas, fuzis. O veículo para a alguns metros de distância, e oito homens descem armados. Um deles começa a caminhar em minha direção. Quem estava comigo mal conseguia respirar.
— Aí, meu irmão, tu não morava no Parque? — tratei de perguntar ao que parecia ser o chefe, antes de qualquer iniciativa de ameaça.
— Parou, parou, tá tranquilo, tá tranquilo, vigia a área, vigia a área — ordenou ele, momentos depois de me reconhecer onde ele menos imaginaria.
Fazer matérias dentro de favelas nunca foi problema para mim. Fui criado na maior delas. Tive amigos que num dia jogavam bola comigo, no outro estavam presos. Como jornalista, já apurei, em silêncio, o assassinato de pessoas que conhecia desde criança. Mas, naquele dia, o tal “estalo” que um dia acontece para que, finalmente, a gente acorde, me trouxe a certeza da importância de uma oportunidade na vida de alguém.
Graças ao Colégio Pedro II, fiz os antigos ginásio e segundo grau sem o tormento das mensalidades. Estudar ali deveria ser um direito assegurado a quem não tem acesso a uma educação de qualidade por falta de dinheiro. Afinal, quando um filho de uma empregada doméstica de Quixeramobim (CE) e de um faxineiro de Campina Grande (PB), que se conheceram durante o duro despertar de um sonho chamado “Sul Maravilha” dos anos 1970, poderia se atrever a subir os imensos degraus da pirâmide social brasileira numa época sem cotas afirmativas?
Por isso, não consigo ficar alheio aos ataques desferidos à instituição. Acusações de doutrinação ideológica, críticas às discussões sobre a diversidade de gênero (primeiro, implicaram com a denominação ‘alunxs’, que surgiu no cabeçalho de uma avaliação rotineira; depois, com a permissão de meninos usarem saias), denúncias sem provas ao Ministério Público Federal culpando o reitor pelas ocupações feitas pelos estudantes contra a PEC do teto de gastos.
Que os simpatizantes do Projeto Escola Sem Partido conheçam a lição número um do aluno do Pedro II: pensar por conta própria. É da pluralidade de opiniões que se constrói um caráter. Dentre meus colegas do colégio surgiram esquerdistas histéricos e conservadores dignos da Tradição Família e Propriedade (TFP).
Devo ao Pedro II minha ida para uma universidade pública e minha formatura em Jornalismo, sendo anos depois repórter de televisão — quem diria, o favelado andando de terno e gravata, aparecendo para todo o Brasil em rede nacional.
Naquele diálogo no alto de um morro da Zona Sul do Rio, ficou muito claro que eu não era um privilegiado que tinha conseguido escalar a pirâmide social apenas por esforço meu, dos meus pais ou dos meus professores, amigos, chefes etc. Eu simplesmente estava ali, frente a frente com a minha possível história, por um único motivo: me deram uma chance.
— Quem diria, hein… A gente jogava bola junto, morava no mesmo lugar… Hoje, você tá aí, terno, gravata, bonitinho, e eu… sou o dono do morro… — disse o chefe do tráfico de drogas pra mim, exibindo dois fuzis.
Assim que o carro desceu a ladeira, ficou a pergunta que, desde então, não sai da minha cabeça: e se não tivessem me dado uma chance ?
A pessoa em questão foi presa dois anos depois na Baixada Fluminense. Tinha 31 anos. Foi condenado a 69 anos em regime fechado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, roubo mediante grave ameaça ou violência, além de formação de quadrilha.
Adeilton Oliveira é jornalista