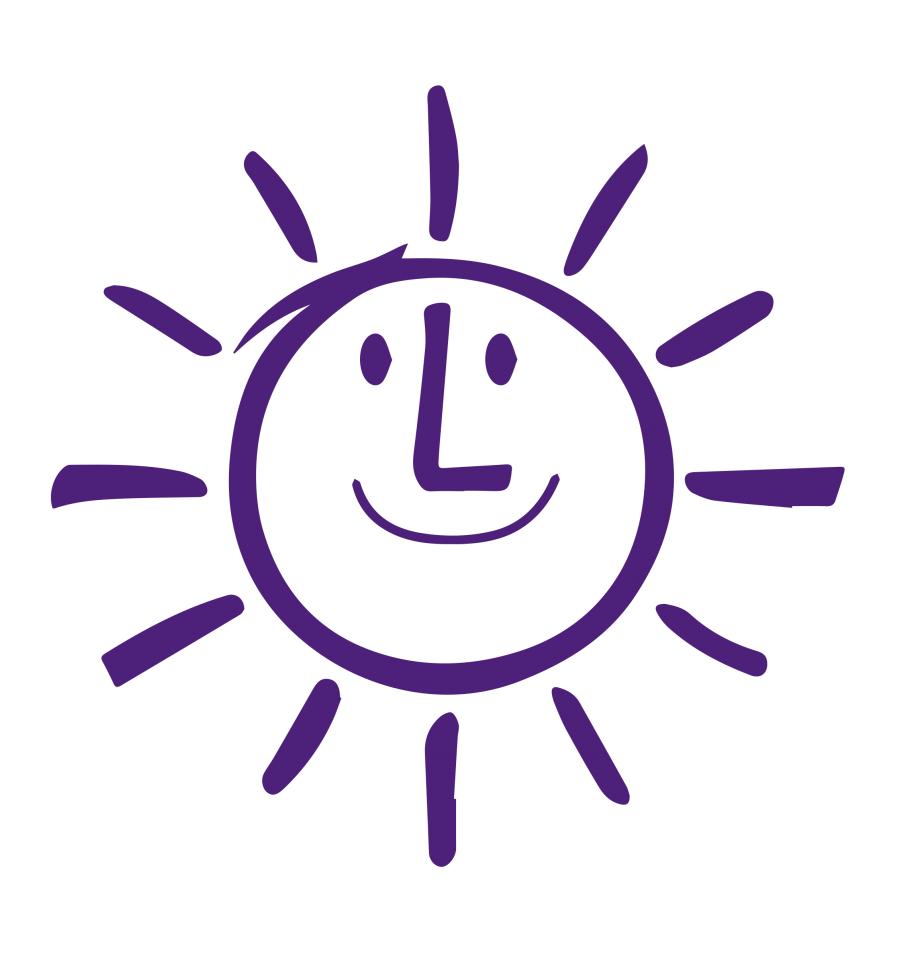Foto: Luciana Boiteux
Pesquisadora do Museu Nacional, ativista e militante do PSOL Carioca, Adriana Facina foi homenageada com a Medalha Pedro Ernesto, nesta última segunda-feira, 12 de dezembro. Investigadora e entusiasta da cultura do funk e da favela, Facina foi congratulada em iniciativa da vereadora Verônica Costa. Seu discurso, além de tudo, é uma aula de história sobre a vida de Pedro Ernesto, sobre o funk e mostra a relação entre o morro, o asfalto e as contradições do Rio de Janeiro. Parabéns, Facina!
…
12 de dezembro de 2016
Discurso Medalha Pedro Ernesto
Boa noite a todas e todos. Gostaria de iniciar esse discurso agradecendo a vereadora Veronica Costa. Nossas diferenças político-partidárias são imensas, mas não são maiores que nosso respeito mútuo e que minha admiração por sua trajetória de mulher-mãe-funkeira-guerreira-política. Fazer política na diferença é um grande desafio dos tempos difíceis em que vivemos. Mãe Loira, meu muito obrigada por essa homenagem que é motivo de muita alegria e muita honra para mim. Obrigada a todos que falaram aqui e que me honraram muito. São pessoas que admiro demais: Marielle, Deize, Pâmella, Mariana, Praga, Marcelo Negão. Eu não tenho palavras para agradecer tudo o que recebi e ouvi aqui nesse momento. Obrigada a todas as amigas e amigos que encheram minha alma de afeto com suas palavras, mensagens, inboxes, textos no Facebook, Whatsapp e abraços. Agradeço a todas as pessoas aqui presentes: amigos e amigas, alunos e alunas, colegas de trabalho, companheiras e companheiros de militância, de funk. A presença de vocês é um banho de axé, uma benção pra mim. Um agradecimento especial para minha família: vocês são a razão de tudo, meus amores, minha vida. Abel, Giulia, Raul, minha mãe Solange e minha tia Nilene. Meu paizinho também certamente está aqui entre nós e feliz com essa celebração.
Pedro Ernesto, o prefeito que dá o nome a esse conjunto de medalhas que hoje recebo, conhecido como “médico bondoso”, defendia melhor distribuição de renda e foi preso em 1936 acusado de ser comunista. Abriu a primeira escola pública dentro de uma favela, na Mangueira. Forneceu subsídios às escolas de samba e abandonou todas as políticas públicas de remoção e reassentamento de favelados, dando início ao seu reconhecimento de fato. Segundo o pesquisador Rafael Soares Gonçalves, ao evitar o despejo de moradores de favelas, o prefeito contribuiu para consolidar a posição das favelas na paisagem urbana da cidade. Pedro Ernesto hoje certamente seria um parceiro do funk e das favelas, na luta por direitos e no combate a sua criminalização.
Queria propor aqui uma reflexão sobre a relação entre as pesquisas acadêmicas, o funk e as favelas. Qual o nosso lugar nessa relação? A permanência das favelas na cidade dependeu da luta de seus moradores. Mas também da sua capacidade em estabelecer alianças com outros segmentos sociais. Da mesma maneira, podemos dizer que a persistência do funk na cidade do Rio de Janeiro é fruto da capacidade dos funkeiros e funkeiras em dialogar com amplos setores da sociedade. Criminalizado e discriminado, ainda assim o funk abraça, acolhe, reúne, congraça. O funk é a recusa do gueto. Ele quer o mundo, com todas as diferenças de gênero, raça, orientação sexual, classe social e também, é importante que se diga, de formatos corporais. O funk rompe com padrões de beleza fundados no machismo, no racismo, na gordofobia. O funk é cosmopolita e radicalmente democrático.
Nós, acadêmicos e acadêmicas que pesquisamos o funk, somos parte desse universo. Não podemos falar pelos funkeiros e pelas funkeiras. Nem mesmo dar voz, num sentido paternalista e domesticado que essa expressão porta. O que produzimos é diálogo. O conhecimento que materializamos em teses, livros, artigos, aulas, palestras é resultado desse diálogo, dessa polifonia que nos transforma profundamente. O que de mais importante podemos oferecer é a eternização em texto, a duração da história, a possibilidade de inscrever no tempo o testemunho de uma experiência histórica. Escrever é uma forma de tornar eterno. É uma espécie de canto. Queríamos poder fazer mais. Por vezes, há brechas no Estado e conseguimos influenciar com nossos estudos a formulação de políticas públicas a favor do funk. Mas ainda é muito pouco. De minha parte, toda uma vida não seria suficiente para retribuir tudo o que o funk me ensinou. O funk me tornou uma pessoa melhor. E eu quero dizer também que tenho muito orgulho dessa universidade pública a qual eu pertenço, sobretudo no que ela se transformou nos últimos anos, se enegrecendo, se diversificando, se democratizando. Não tenho nenhuma vergonha de falar a partir desse lugar, um lugar que é meu por direito e que espero que seja também direito de toda população brasileira.
Minha relação acadêmica com o funk não começou na pesquisa, mas sim na sala de aula. Não fui funkeira em minha juventude, embora assistisse com gosto o programa de Cidinho Cambalhota nos anos 1980 e acompanhasse pela rádio a evolução do gênero. Nos anos 1990, músicas como Rap da Felicidade, Rap do Silva, e Rap das Armas me ajudavam a entender o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Principalmente a partir de 1994, quando me tornei uma jovem mãe, eu queria saber que mundo era esse que estava recebendo minha filha. Arrastões, chacinas, explosão da violência urbana, desrespeito aos Direitos Humanos, o funk testemunhava e relatava tudo isso em forma de música. Em 1996, aos 25 anos, iniciei minha carreira como professora lecionando numa universidade particular em São Gonçalo. A disciplina era Cultura Brasileira e eu, inexperiente, acadêmica, montei meu curso todo baseado em leituras de clássicos do pensamento social brasileiro. O funk me salvou do total fracasso. Minhas alunas e alunos eram jovens da periferia e muitos curtiam bailes funk, que na época estavam no auge. Sensível ao desinteresse deles diante de minha proposta inicial para o curso, sugeri a leitura do livro pioneiro de Hermano Vianna, O mundo funk carioca, e um trabalho final em que eles ensaiassem uma etnografia dos bailes que frequentavam. Os clássicos dialogaram lindamente com as experiências de campo, embalados pelo batidão, e com as bençãos de Paulo Freire.
Foram muitos os momentos em que o funk me permitiu dialogar com a juventude popular. Este ano, nas ocupações das escolas estaduais, ministrei, em parceria com os pesquisadores Carla Mattos e Calos Palombini, com os realizadores do curta metragem As Galeras e com o MC PH Lima, a oficina Ocupa Funk. Foram momentos intensos de trocas, reflexões com os jovens que estiveram a frente de um importante movimento de valorização da educação pública e que obtiveram como resposta às suas justas demandas a repressão e a surdez do governo do Estado. Que chance desperdiçada! A sensação é essa: desperdiçamos essa juventude, sua criatividade, seus potenciais. O funk nos fala disso. Precisamos ouvir e aprender.
Como pesquisadora, minha relação com o funk iniciou no meu pós-doutorado. Eu já era professora concursada de universidade pública. Em 2008 decidi fazer meu pós-doutoramento, sob orientação de meu eterno mestre Gilberto Velho, no Museu Nacional. A ideia era estudar música e lazer popular e envolvia, além do funk, a música brega e o samba. Mas o funk tomou conta de mim, com suas demandas políticas, suas polêmicas, sua linguagem cifrada que precisamos treinar os ouvidos para entender. Encontrei entre os profissionais do funk duas reivindicações principais: a descriminalização do gênero e uma lei que o legitimasse enquanto cultura. O caminho? A fundação de uma associação profissional. Tenho muito orgulho dessa pesquisa militante que me permitiu viver momentos tão gloriosos. A organização do Movimento Funk é Cultura, as rodas de funk – da Universidade à Central do Brasil -, a criação da APAFUNK, a revogação da lei Álvaro Lins e a promulgação da Lei do Funk é Cultura, a luta contra a resolução 013. Fizemos história, fizemos pesquisas. Eu, Mariana, Pâmella, Marielle, Lidiane, Drica e tantas outras que estamos aqui hoje. Pesquisadoras, professoras. Mostramos na prática que produção de conhecimento também é luta, arrebentamos torres de marfim, derrubamos muros, criamos pontes. Coletivamente.
E preciso dizer o quanto aprendi também com as mulheres do funk. A presença de Deize Tigrona aqui me honra demais. Em 2008 eu achava o funk putaria machista, mesmo aquele cantado por mulheres. Com minha cabeça de feminista, branca, acadêmica, de classe média reproduzia a ideia da objetificação das mulheres funkeiras, as via como vítimas e não como donas de suas próprias vidas, de seus próprios corpos. Artistas como Deize Tigrona, Valesca Popozuda, Dandara, Tati Quebra Barraco quebraram meus preconceitos, me ensinaram sobre ser mulher, sobre combate ao machismo, sobre autonomia feminina muito mais do que qualquer livro que eu tenha lido sobre o tema.
Falando em Tati Quebra Barraco, é preciso registrar aqui que hoje é um dia de luto para o funk. Mais uma mãe negra chora a morte de um filho assassinado pelo Estado numa favela carioca. Uma mãe funkeira órfã de seu filho, sentindo a maior dor do mundo, uma inversão da ordem cósmica. A tragédia de Tati é única, ela perdeu o seu Yuri, seu pedaço arrancado. Mas é também uma tragédia coletiva. No Brasil temos cerca de 60 mil assassinatos por ano. A maioria jovens. 77% negros. É um genocídio da juventude popular e negra, rotineiro, assistido sem alarde e por vezes aplaudido por parte da população brasileira. Esse é, além de um desrespeito brutal aos Direitos Humanos, um crime cultural de impacto duradouro. Quantos Pixinguinhas não estamos matando nas nossas favelas e periferias? Quanta criatividade, quanta arte, quanta potência, quanta invenção perdemos nessa insana guerra aos pobres disfarçadas de guerra às drogas? Esse é um debate urgente que precisamos fazer, pois nossa hipocrisia está matando nossos jovens.
Não é por acaso que as mães têm um lugar tão importante no funk. É a Mãe Loira, profissional querida pelos funkeiros logo associada à figura materna. É a mãe a quem o filho preso pede desculpa por ter entrado na vida do crime. É a mãe para quem o filho sonha em dar uma vida melhor ao fazer sucesso como MC. É a mãe que segura as pontas, aguenta a barra, que batalha, dá colo e bronca. É a mãe que chora a morte do filho e que luta por justiça. É a guerreira que sobrevive para não deixar a memória do filho morrer no esquecimento.
O funk é uma enciclopédia de lições de sobrevivência. É a criação a partir da precariedade e da solidariedade necessária para superá-la, como aprendi com MC Calazans, numa entrevista lá no Complexo do Alemão É a alegria em meio ao caos. É inventar vida aos invés de esperar a morte. “Hoje somos festa, amanhã seremos luto”, como diz a música de Praga, poeta da Vila Cruzeiro. Quanta urgência neste verso, quanto ensinamento para nós que vivemos nesse tempo de incerteza, de desrespeito à Constituição, de pacotes de maldades do governo do Estado que massacra os servidores, destrói a saúde e a educação, mantendo privilégios milionários e servindo como lacaios às instituições financeiras. O que temos pra hoje é sobreviver. E sobreviver, como o funk ensina, é fazer brotar alegria do luto, é transbordar afeto, é caçar jeito, driblar a sorte, desestabilizar certezas, construir gambiarras. Precisamos ouvir, entender e aprender os ensinamentos do funk.
Hoje, na cidade que inventou o funk, é muito difícil fazer um baile funk. Assim como o juventude que ele representa, o funk está na mira. Proibições, invasões policiais, destruição de equipes de som, criminalização de MCs, esse o cotidiano dos profissionais do funk. No entanto, quem sobrevive não morre fácil. Como diz a jovem pesquisadora Clarice Ramiro,“Enquanto existirem vidas “matáveis” o funk vai existir. E enquanto ele existir, nós o faremos ecoar por todos os cantos.”
E eu acrescento: enquanto não for possível ser feliz e andar tranquilamente na favela e em todos os cantos dessa cidade, estaremos aqui.
Muito obrigada! Essa medalha é nossa!