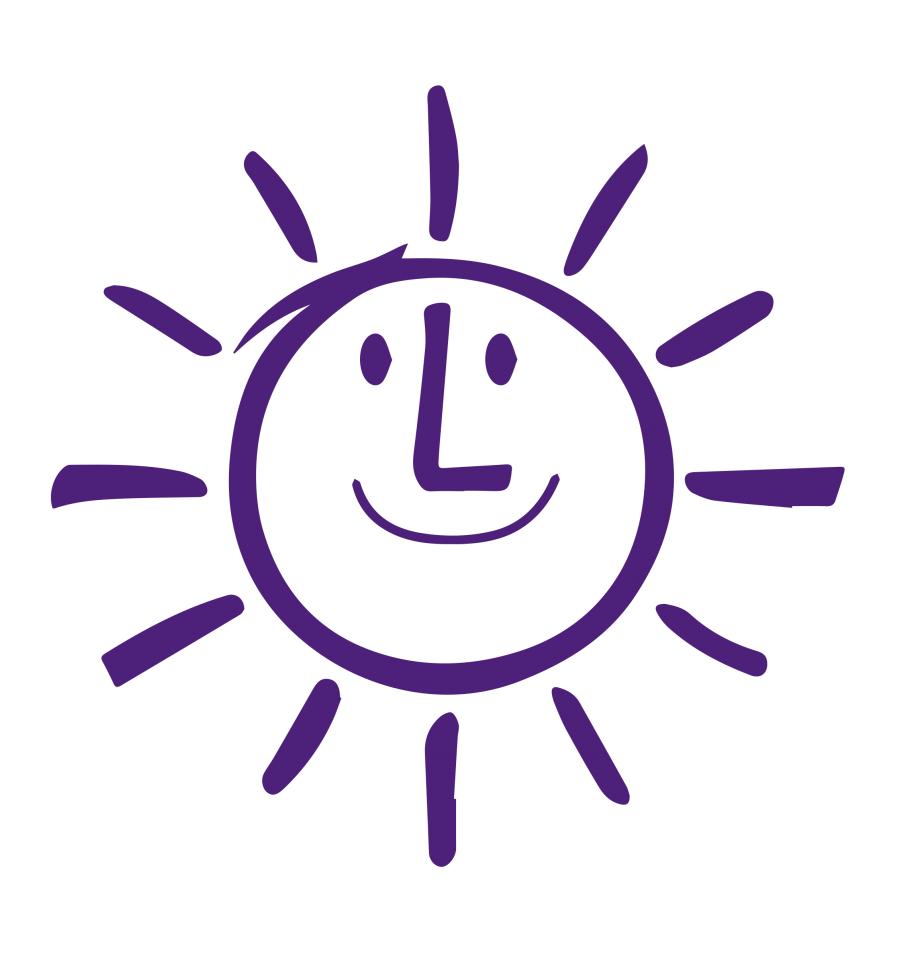Originalmente publicado em O Globo – por Luiz Antônio Simas
Uma conversa sobre empatia, porque não dá para ficar indiferente ao que ocorreu com comerciantes da Vila Kennedy
Situada entre o Morro do Retiro e a Serra do Quitungo — nas terras da antiga Fazenda do Retiro —, a Vila Kennedy foi construída para receber as populações desalojadas pelas remoções das favelas do Esqueleto, do Pasmado e de Ramos, na década de 1960, durante o governo de Carlos Lacerda. A construção recebeu recursos da “Aliança para o progresso”, programa do governo norte-americano de John F. Kennedy voltado para a América Latina no contexto da Guerra Fria.
Diante do que ocorreu na Vila Kennedy na semana passada, recordei-me de um ditado em umbundu — língua falada pelos ovimbundos do planalto central de Angola —, que conheci no livro “Roda dos Saberes do Cais do Valongo”, organizado pelo mestre Délcio Teobaldo, jongueiro, prosador, músico e sabedor da língua das folhas que curam: Capwa kiso kutima oko cili. Em tradução livre, “não é porque não vivemos uma história que deixamos de senti-la”. É essa capacidade que nos humaniza.
Não é possível que a população do Rio de Janeiro fique indiferente ao que aconteceu com a chegada de agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública na Vila. Mais de trinta quiosques de pequenos comerciantes locais foram derrubados. O prefeito admitiu em nota o uso desproporcional da força na operação e prometeu ressarcir os trabalhadores.
A intervenção brutal em um espaço ignorado ao longo de anos pelo poder público — descaso histórico que faz com que a própria população construa, à margem da ordem institucional, seus mecanismos de sobrevivência, sociabilidade, trabalho e lazer — é pura demofobia.
O conjunto habitacional foi inaugurado em janeiro de 1964. Poucos anos depois, em 1968, foi fundado o bloco (hoje é escola de samba) Unidos da Vila Kennedy. Como muitos dos habitantes eram oriundos da Favela do Esqueleto — onde hoje está a Uerj —, bem próxima ao Morro da Mangueira, e com centenas de moradores que desfilavam na verde e rosa, a bateria da Vila Kennedy tem as mesmas características da bateria da Estação Primeira, inclusive em relação à peculiar batida do surdo.
Não surpreende que uma das iniciativas de construção de sociabilidades na nova comunidade tenha sido a criação de um bloco carnavalesco e que, dentre os diversos quiosques destruídos, vários sejam de comidas e bebidas. Festejar, tocar tambor, tomar umas geladas depois do trabalho, comer a tapioca com gosto do Nordeste, mandar brasa no churrasquinho, jogar conversa fora depois do perrengue do trabalho e da experiência de sardinha em lata dentro do ônibus, no eterno engarrafamento da Avenida Brasil na hora do sufoco, é o mínimo que se pode fazer para que a condição humana prevaleça diante de tudo que a embrutece. E há de prevalecer.
Walter Benjamin dizia que apenas em virtude dos desesperançados nos é concedida a esperança. A filosofia do judeu alemão e a dos ovimbundos de Angola se abraçam na empatia. Garcia Márquez escreveu que a vida, mais que a morte, é a que não tem limites. Em um Rio de Janeiro distante do mar, sem o já raiou a liberdade, o povo heróico e o brado retumbante, há quem continue insistindo em colocar na água suja da aldeia, todos os dias, um barquinho conduzido nos tempos do cólera por ela mesma, a danada da vida: sem limites e brotando como flor nas fendas de um muro cinza.