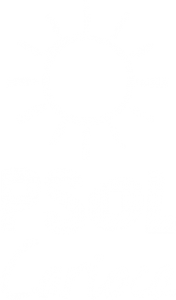Originalmente publicado em O Globo
A vida dos moradores dos bairros periféricos e das favelas do Rio de Janeiro é permeada de experiências práticas que demonstram a face cruel do racismo estrutural, das desigualdades de classe e de gênero. A crise da água, na qual o estado se viu imerso no raiar do ano de 2020, por sua vez, evidencia a materialidade de um outro. Expresso na falta de acesso a condições dignas de saneamento, direito fundamental sumariamente violado há décadas nas áreas empobrecidas, majoritariamente pretas e femininas, o racismo ambiental exibe, para quem quer ver, toda a sua inclemência e inumanidade.
A água que escorre das torneiras, em sua versão barrenta, contaminada e mal cheirosa, deixou a população à mercê de uma rotina em que beber, comer ou tomar banho com segurança passaram a depender do quanto se pode pagar além da conta que já chega todo mês. O preço da água mineral, objeto de desejo de quem quer minimamente manter a saúde nesses dias de fúria e esgotos abertos, permite que se meça a desigualdade. De R$ 2,80 em um supermercado na Urca ou no Leblon, o valor de uma garrafa de 1,5 litro pode chegar a R$ 8 em uma venda informal da favela de Rio das Pedras, na Zona Oeste. Trocando em miúdos, a qualidade da água que se consome está vinculada ao endereço que habitamos.
É aquela velha história: me conte de onde você vem, que horas acorda para chegar ao trabalho, que saberemos o quão boa ou dura é a sua realidade. Essa é uma lógica que acompanha o racismo ambiental, conceito cunhado nos Estados Unidos no início dos anos 1980 e que se mostra ainda ou mais atual a cada década que passa. Trata-se, segundo os teóricos, da discriminação racial na elaboração das políticas ambientais, por meio de uma seleção deliberada de determinadas comunidades para o depósito de rejeitos tóxicos ou instalação de indústrias e seus poluentes. O Brasil é rico em exemplos, as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas sabem bem.
No Rio, onde ricos e pobres têm identidades raciais também atravessadas pelos seus endereços, é a população negra o alvo mais vulnerável da necropolítica que se fortalece a cada governo que entra e sai. E cujo legado é uma estatística deprimente: apenas 35% do esgoto do estado são tratados, segundo o Departamento de Engenharia de Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
A Cedae, empresa pública que somente no ano passado obteve mais de R$ 830 milhões de lucro, é alvo de má gestão, o que emperra o que deveria ser regra: acesso à água potável a baixo custo. É preciso que tenhamos respeitado esse direito, fundamental e inalienável, e que barremos esse projeto de morte, que não teve início neste governo, é importante reconhecer, mas que nele se aprofunda e se fortalece.
O que se pede não vai além de equidade e da defesa de um bem público, a própria Cedae. O que se espera são as obras de estrutura ou melhorias e os investimentos necessários para que se abram as torneiras sem medo, independentemente do código postal que usemos, da cor da nossa pele ou da classe social. É justo que seja assim. Afinal, somos todos humanos, não somos? Não esqueçamos, opressão tem nome. Direitos humanos não deveriam ser transformados em privilégios.
Dani Monteiro, deputada estadual do PSOL na ALERJ