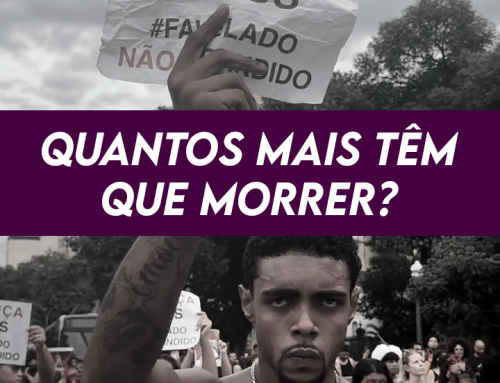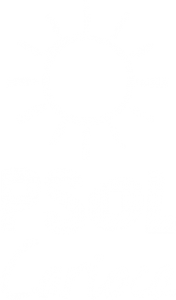LEI DE SEGURANÇA NACIONAL
por Julia Almeida Vasconcelos da Silva e Luciana Boiteux – Originalmente publicado em Le Monde Diplomatique
A discussão sobre a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional (n. 7210/1983) está no centro do debate público atual, tendo em vista seu uso contra opositores do governo Bolsonaro, com destaque para figuras relevantes como Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Felipe Neto, dentre outros. A perseguição feita pelo Ministério da Justiça e Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal, suscitou o debate acerca desse entulho da ditadura e de seus usos antidemocráticos e autoritários.
A partir disso, alguns partidos ajuizaram Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentai (ADPF), que já estão para entrar em pauta no STF, com a finalidade de debater a excepcionalidade, ou não, da norma pela Constituição de 1988.[1] Em paralelo, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 2462/1991 (já com inúmeras emendas), que visa substituir o texto de 1983 por outro mais recente, que tramita em regime de urgência, e deve ser aprovado nos próximos dias – tentando, inclusive, substituir ou alterar o curso do julgamento no Supremo.
Sem dúvida, a persistência dessa legislação é extremamente problemática, mas é fundamental dizer que ela sempre foi utilizada para a repressão de movimentos sociais, inclusive após a redemocratização. Não apenas Bolsonaro faz uso dela, apesar de sua utilização ser mais intensa e indiscriminada, mas praticamente todos os governos pós-ditadura o fizeram. Há um problema estrutural de fundo que precisa ser levado em consideração neste debate, que é a permanência da Doutrina da Segurança Nacional – uma lógica de proteção da ordem interna pela eliminação e excepcionalização jurídica de tratamento de opositores do status quo e seus governos – anterior à própria ditadura e que remanesceu após seu término. Remontemos um pouco essa origem.[2]
Em verdade, a cunha do primeiro inimigo interno e que resvala na constituição de um “tribunal de exceção” (formado por militares), ocorre no governo Marechal Deodoro, quando, para combater os “inimigos da república”, é editado, em dezembro de 1889, o Decreto n° 85-A, que impõe censura à imprensa e cria a Comissão Mista Militar de Sindicâncias e Julgamentos, que tinha competência para julgar tanto civis como militares, cujos integrantes eram indicados pelo então ministro de Guerra. Segundo aponta D’Araújo (2010), tal decreto é considerado para alguns estudiosos como a primeiro ou o embrião da primeira Lei de Segurança Nacional.
Mas é na Constituição de 1934 que se atribui à Justiça Militar foro especial para crimes militares e contra a segurança nacional, mesmo quando cometidos por civis, instituindo, portanto, a primeira perspectiva organizada da segurança nacional. Finalmente, em 1935, se promulga a primeira “Lei de Segurança Nacional”,[3] que instituiu os crimes contra a segurança nacional, no contexto da Intentona Comunista – levante de militares comunistas liderados por Luís Carlos Prestes, que acabou fortemente reprimido. No entanto, apenas em setembro de 1936 é que foi criado um tribunal de exceção, o Tribunal de Segurança Nacional (TSN), como órgão da Justiça Militar, que atuaria enquanto o país estivesse sob decretação de “estado de guerra”.
Depois dessa lei originária, a competência militar para julgamento e a edição de novas leis vão sofrer várias alterações até o golpe empresarial-militar de 1964 e, durante a ditadura, a Justiça Militar e o sistema de justiça como um todo passaram por diversos momentos, inclusive com a expressão do completo arbítrio do sistema de justiça, em especial com a decretação do AI-5, com o fim do habeas corpus, recursos e julgamentos civis.[4]
Sendo assim, a Doutrina da Segurança Nacional é muito anterior ao golpe civil militar de 1964; sua origem remonta à consolidação de um Exército nacional e profissional saído da Era Vargas, em especial do Estado Novo, sob a direção militar do general Góis Monteiro, e é inspirada no contexto da Guerra Fria. Apesar de anterior ao golpe de 64, ela será adensada e estruturada sobretudo pela criação em 1949 da Escola Superior de Guerra (ESG), com ajuda dos Estados Unidos, e será espinha dorsal dentro do projeto político dos militares, que culminará no golpe.
Essa doutrina colocava a ideia de que há um inimigo público interno que precisa ser combatido, que dentro de um mundo polarizado por dois projetos de sentido, o capitalismo e o socialismo, era necessário para os Estados capitalistas controlarem ou eliminarem aqueles que queriam substituir esse regime pelo socialismo. Portanto, os principais inimigos da primeira LSN de 1935 eram os comunistas. Sabemos que ao longo da nossa República, qualquer movimento ou partido que buscasse apresentar um projeto político para as classes de baixo ia sendo enquadrado nessa legislação.
Todo o aparato repressivo do Estado será alicerçado, a partir de então, por essa lógica e visão. Os sistemas de inteligência serão profissionalizados e formados por essa perspectiva, assim como a utilização do aparato policial e militar da ditadura, com as estruturas repressivas, autorizadas a esse combate aos opositores do regime, aos “subversivos”, a uma repressão política que vise o controle social, os “inimigos”.
A ideia de uma lei de segurança nacional esteve, desde seu embrião, ligada a uma perspectiva de tribunal de exceção, em regra de competência da Justiça Militar para julgamentos, inclusive de civis. Em determinados momentos não apenas a competência era um diferencial, mas toda uma tramitação diferenciada, com redução até drástica dos instrumentos do direito de defesa instituídos no marco legal geral.
Sendo assim, a LSN, baseada nessa Doutrina da Segurança Nacional, sempre foi um instrumento de perseguição política e braço fundamental de um Estado que seguia uma lógica autoritária. Ela permitia o enquadramento de movimentos sociais e políticos na perspectiva de inimigos do Estado, a quem não caberiam os mesmos direitos de contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, é razoável ponderar que essa doutrina sempre esteve estritamente ligada a uma ideia de “direito de exceção”, ou melhor, de excepcionalização do estado de direito para seu julgamento. Isso significa dizer que várias normas do devido processo legal, que garantem o direito a ampla defesa, são relativizadas nos casos de crime contra a segurança nacional.
A grande questão atual é qual o sentido da perspectiva da segurança nacional do Estado e se esta cabe numa sociedade democrática. O que, em tese, se visa proteger é um estado democrático de direito, o pacto federativo, os três poderes e a soberania nacional. Ocorre que o histórico da Doutrina da Segurança Nacional demonstra que ela é concebida e utilizada sobretudo para controle político, por isso a LSN de 1983 possui um desenho autoritário e inúmeras brechas que permitem o uso autoritário que está sendo dado hoje por Bolsonaro. Não é mera coincidência, em especial, a perseguição à liberdade de pensamento, quando opiniões políticas críticas ao governo vêm sendo tratadas como ameaças ao Estado.
A Constituição de 1988 colocou a permanência do crime político, e preceitua ser de competência da Justiça Federal e do STF, mas nunca houve uma regulamentação. No entanto, apesar da previsão na LSN de 1983[5] dos crimes contra a segurança nacional serem julgados pela Justiça Militar, o art. 30 não foi recepcionado pela Constituição de 1988, conforme já sedimentado no STF no HC 73451 e RC 1468, considerando a competência como sendo da Justiça Federal.
A justificativa pública e teórica da ideia de segurança nacional é a defesa externa, a soberania e a defesa daquilo que tente abolir o estado de democrático de direito com meios eficientes. Mas quando a ideia é do controle social, do estabelecimento de um instrumento que mire naqueles que buscam transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, dentre outras, é impossível qualquer compatibilidade dessas legislações com o estado de democrático de direito. De igual modo, a relativização de direitos e garantias fundamentais, do devido processo legal, e a constituição de um tribunal de exceção para esses julgamentos também são incompatíveis com qualquer perspectiva democrática.
A Lei de Segurança Nacional não é um problema apenas porque foi editada na época da ditadura como um instrumento autoritário para inviabilizar a existência de opositores ao regime. Ela é um problema não apenas por um parágrafo ou outro do texto normativo, mas porque o que a fundamenta é a Doutrina da Segurança Nacional. E o que precisamos superar neste país, muito mais do que a LSN de 1983, é essa doutrina e outras lógicas e instrumentos de origem autoritária.
O uso indiscriminado e profundamente autoritário dessa legislação pelo governo Bolsonaro, casado com o aparelhamento do governo federal, da Polícia Federal e dos sistemas de inteligência para defesa de interesses pessoais da família Bolsonaro e políticos de seu governo, colocaram em xeque novamente essa legislação e ressuscitaram esse tema tão importante. O debate que se abrirá no Supremo e/ou no Congresso a partir da próxima semana é se estamos ou não dispostos a enfrentar a lógica dessa doutrina autoritária, elitista e conservadora que está imbricada com o estado de direito brasileiro.
Julia Almeida Vasconcelos da Silva é advogada e mestre em Direito pela UFRJ.
Luciana Boiteux é advogada, mestre (UERJ) e doutora em Direito Penal (USP) e professora associada da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ.
[1] Em relação a leis anteriores a vigência da Constituição de 1988, o que cabe não é declarar a sua constitucionalidade, mas sim verificar se suas normas foram recepcionadas pela Constituição em vigor, no caso a de 1988. Faz-se um exame da lei no sentido de verificar se ela tem ou não validade diante da constituição.
[2] Para Zaffaroni, a ideologia da segurança nacional como preconizada pelas Ditaduras do continente teria sido trazida para a América Latina após a Guerra da Argélia, por autores franceses, e preconizava a existência de uma guerra entre o comunismo e o resto do mundo, propondo a instrumentalização para o aniquilamento do “perigo vermelho” por meio da militarização da sociedade, com a preponderância do bem jurídico “segurança nacional”, sobre os demais bens jurídicos e sobre os direitos humanos. O ordenamento jurídico deveria servir de instrumento para esta “guerra interna”. O sacrifício da liberdade e dos direitos humanos era o instrumento da garantia da “ordem”, contra o inimigo comum a ser combatido nesta guerra interna: o dissidente político (ZAFFARONI, Eugênio Raul, PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 363).
[3] Ressalta-se que a Lei “define ‘crimes contra a ordem política e social’…é visivelmente uma lei contrária a ação dos sindicatos, às greves, às organizações políticas e milícias particulares. É dura no que toca a conspirações e movimentos militares, a estrangeiros envolvidos em atividades políticas e a propaganda política nos meios de comunicação. A lei prevê as penas para cada crime e mantém a estrutura vigente da Justiça Federal como o foro para julgamento desses crimes com direito a recurso.” (D’Araújo, Maria Celina. Militares, Democracia e Desenvolvimento: Brasil e América do Sul. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 212).
[4] Nesse sentido, a Súmula 268 do STF, editada logo após o golpe preceituava que: “o legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar em tempos de paz nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”.
[5] Art. 30, da LSN: “Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos nesta Lei, com observância das normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, no que não colidirem com disposição desta Lei, ressalvada a competência originária do Supremo Tribunal Federal nos casos previstos na Constituição”.